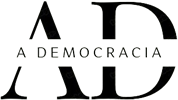Vinício Carrilho Martinez (Dr.)
Cientista Social e professor da UFSCar
Márlon Pessanha
Doutor em Ensino de Ciências
Docente da Universidade Federal de São Carlos
“Senhoras e senhores: reunidos, vamos nos reunir, para reunir!”
Não se preocupe, ao final você entenderá que diabos quer dizer essa sentença.
Tem um livro tipicamente anarquista, com críticas contundentes ao que se chama de Tecnoburocracia – uma burocracia que serve ao poder e a si mesma; melhor dizendo, que cria mais burocracia, a cada dia (pouco importa se há um discurso de “coletividade”), simplesmente para manter seus empregos. Diga-se, de passagem, que essas personagens ganham muito mais do que qualquer docente de universidade pública, e mesmo que seja professor titular. De algum modo, essas coisas se ligam ao Mito do Fausto, um ser diabólico que só queria arrancar o couro e a alma das pessoas. Por isso vamos a isso primeiro.
A história do Fausto deveria ser contada em todas as escolas, porque traz a história do capitalismo a partir do Renascimento, a fase que, logo depois da Rota da Seda, nos brindaria com a “descoberta do Brasil” pelo fogo das caravelas da chamada “expansão ultramarina” – uma prévia da colonização que ainda escravizaria a maioria do nosso povo.
Porém, como essa história original não é contada, nós ensaiamos aqui umas linhas: o povo teria contada a história apócrifa do Fausto, o diabo em pessoa, que arrancava o couro, a alma, os tostões dos mais pobres daquela época. O diabo, é claro, era o capitalista daqueles tempos, notoriamente os banqueiros – os agiotas autorizados pelo Estado. Depois, tivemos um Maquiavel contando as peripécias de um Arquidiabo na forma de flores, ou melhor, nas roupas de clérigos e Arcebispos.
O período clássico do capitalismo que nos tira o couro, a alma e a inteligência, viria com um autor alemão absolutamente genial, filósofo nas linhas e entrelinhas de um conto que levou 20 longos anos para concluir: esse gênio chamava-se Goethe e fez duas versões sobre o mito do diabo em pele de cordeiro – um Goethe mais novo e um Goethe mais velho. Parece a história da Chapeuzinho Vermelho, mas é mais brutal.
Pelo meio inicial da história, Goethe já avisava com quantos dissabores o capitalismo corroía as pessoas:
MEFISTÓFELES
Vamos, engole! Com despacho!
Num aí, delícia em ti derrama.
Como! És tão íntimo com o Diabo,
E te apavoras vendo a chama?
(Goethe, 1997, p. 122).
Ao longo da história do capitalismo, ele se reinventou para se manter. A essência é a mesma, mas os artifícios para maximizar os produtos, massacrando os processos e os sujeitos, se transformam nas mais diferentes roupagens. Fausto, o diabo em pessoa; o Arquidiabo; ou o diabo em pele de cordeiro: há uma essência em comum. As práticas, contudo, se diferenciam segundo o seu tempo histórico, ainda que nos tempos e espaços de cada história.
E qual seriam as práticas de nosso tempo histórico?
Retomemos, agora parafraseando, Goethe:
Vamos, engole essa joça, em burocracia monumental que acabamos de criar em nossas “instâncias coletivas” (e viciadas pelo não-fazer). Engole, sem pausa – deixe o refluxo para as suas belas noites não dormidas. E tome outro cadinho de sinais obscuros, nonsense, que vai e volta, que “atravanca” seu trabalho produtivo, criativo. Vai burro de carga, quem mandou não estudar direito e arrumar um emprego melhor, que produzisse pensamentos, conhecimentos, ao invés de encher o carrinho de supermercado de “nadas, vezes nadas burocráticos”. Tua sina é se aposentar, com o miolo meio mole, carregando as malas burocráticas, cheias, sem rodinhas, sem alça. Essa é a nossa relação contratual, empregatícia…
De acordo com esta relação contratual, de sedução eterna pelo consumo, não há que se distinguir entre Deus e Diabo: o sagrado foi profanado, diria a crítica materialista do século XIX.
Para nós, essa lógica está presente desde (ao menos) a criação do Estado Moderno e, no caso brasileiro, desde os mais longínquos rincões do Estado patriarcal, racista, expropriador. É claro que muita coisa aconteceu no Brasil, desde essa forma-Estado que se mantinha no poder com mais corrupção. Hoje, o Estado brasileiro é enorme, tem burocracias infinitas – no passado recente tivemos um “ministério da desburocratização”. Não existe mais. Teria sucumbido à burocracia? Ironia à parte, o certo é que não conseguiu alcançar em seus objetivos. Não deu em nada, é lógico.
Parte volumosa dessa burocracia é paquidérmica, isto é, lenta, inútil e caríssima. Até há argumentos pró-burocracia, reconhecemos. Muitos deles, se remetem a uma suposta (inventada) segurança jurídica e a um controle da corrupção. Mas repitamos, quase como em um mantra, se isso nos ajudar a fixar: o sagrado foi profanado. A busca pela correção (o puro e o sagrado) foi submetida à lógica do capital que tem em nosso tempo histórico, na burocracia, meios de subsistência. Talvez nos valha um exemplo dos mais humanamente corriqueiros e não acadêmicos: como regra, em uma negociação de um imóvel, o vendedor não deve ser uma pessoa incapaz de suas próprias decisões. Segundo protocolos e respeitando hierarquias, uma pessoa ou órgão com fé pública poderá emitir uma certidão que comprove que não há interdições relacionadas com o vendedor. Contudo, os desdobramentos e as especificidades com que se gera a certidão seguem uma burocracia que se justifica somente por si mesma: os desentendimentos entre instâncias, unidades federativas, cartórios, selos para cá ou acolá…
Ficamos extenuados só em pensar! O diabo se aproveita de torres de babel. A busca pela santidade ética e moral é convertida na profana burocracia.
A burocracia está em tudo e perpassa todos. Até mesmo nos espaços em que, seria de se esperar, há uma liberdade de pensamento e de ação, ainda que sob delimitações, a burocracia está lá, à espreita, como monstros sugadores de alma ou, leia-se, de tempo, criatividade e energia. As universidades, oásis do pensamento de outrora, estão sendo tomadas por processos e dinâmicas extenuantes. Os trabalhos institucionais das universidades públicas – do MEC para baixo, estão mergulhados na burocracia.
Ainda defendemos a universidade pública! Ainda entendemos que ela é o principal espaço, em nosso país, de construção do conhecimento científico. Ainda entendemos que a universidade tem um potencial, não tão explorado, de diálogo com a sociedade em torno de suas demandas genuínas, não restritamente ligadas à lógica do capital. Apesar disso, vemos as universidades se desconstruindo, em seu papel, missão essencial, pelos sucateamentos financeiros e processuais, os quais, nos parecem, são indissociáveis.
Como lidamos e trabalhamos em universidades federais – públicas e pobres, sem reajustes, com planos de trabalho caquéticos – iremos destacar melhor nossas peripécias e labutas, dia sim, no outro também.
Há alguns poucos anos, a universidade pública tornou-se um alvo, primeiro velado e depois explícito, de ataques que se deram, principalmente, na forma cortes de verbas, “inovações” trabalhistas e ilações obtusas. Sob o pretexto de uma “austeridade”, que teima em recair quase sempre na educação, saúde e em outros serviços públicos, a universidade passou a ser carregada por um contingente menor de servidores, os quais se desdobram em atuações que vão além daquelas funções para as quais ingressarem no serviço público.
Algumas funções e cargos que existiam nas universidades federais foram extintos, sendo substituídos por empresas terceirizadas. Contudo, também foram feitos recorrentes cortes orçamentários que não permitem às universidades contratar os serviços terceirizados necessários. Pelos corredores, com certa frequência já ouvimos relatos de servidores que fazem uma ou outra coisa funcionar (ou existir) com o dinheiro que vem de seu bolso. Somado a isso, a universidade que, convenhamos, já tinha seus tradicionalismos e burocracias, se aprofundou em trâmites e processos.
Como uma entidade alvo de tantos ataques, a universidade passa a se defender com autorizações para autorizar, reuniões para validar o que já estaria validado, solicitações de soluções para questões do cotidiano que dançam, como em uma lenta música de compasso gravíssimo. Nesse cenário, decisões corriqueiras que poderiam ser tomadas por gestores, diretores, coordenadores, entre outros, em suas funções regulares, passaram a ser levadas para colegiados que conferem, na segurança da burocracia, a legalidade. Há ônus nisso: perde-se energia e, junto, a dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Já temos, nas universidades, reuniões para decidir quando iremos decidir e, lógico, outras mais para dar sequência ao processo de decisão. Nossa crítica, ou angústia, não é em relação aos processos democráticos, participativos e dialógicos. Isso é necessário. O que preocupa é a remoção do tempo com tarefas banais que levam, inclusive, às reuniões rápidas para marcar outras reuniões.
Esse exemplo, claro, é muito específico e, eventualmente, não encontra lugar em todas as universidades. Não queremos, aqui, generalizar. Passemos a outros exemplos, então, que podem estar presentes em outras tantas universidades.
Falemos sobre a pós-graduação, o principal espaço em que se faz ciência em nosso país. Uma parcela significativa do conhecimento científico que é construído no Brasil, nas diferentes áreas de conhecimento, é feita por pós-graduandos sob a orientação de pesquisadores, docentes universitários. Contudo, estes mesmos docentes que encontram, na pós-graduação, um espaço para desenvolver suas pesquisas e contribuir com a formação de novos pesquisadores, recebe como funções o preenchimento de formulários, o fornecimento de informações que, quase sempre, são quantitativas, participam de algumas (por sorte não todas) reuniões que pautam somente questões administrativas, entre outras funções que vão muito além do ensino, da pesquisa ou da extensão universitária.
Se o docente pesquisador é coordenador de um curso de pós-graduação, dobre esse trabalho. Se o curso de pós-graduação foi alvo do sucateamento universitário, de tal modo que nem dispões de secretaria administrativa (leia-se, trabalhadores especializados em cuidar do trabalho administrativo), duplique o duplicado e ganhamos um exemplo cotidiano de uma progressão geométrica. A burocracia desnecessária concretizada em “prestações de conta”, na necessidade de quantitativos para receber notas, amplificada por sistemas de informática mantidos pelo governo que “não conversam” entre si, acentua o desgaste. Nos últimos anos, o desgaste na pós-graduação é tanto que já não tem sido incomum que pós-graduando bolsistas sejam convidados (sic) a auxiliar no trabalho administrativo.
Vamos além, ainda tratando da pós-graduação, para ilustrar como a burocracia corrói a universidade e, ao mesmo tempo, se torna prática cultural e é institucionalizada em decisões: há uma dinâmica de credenciamento de docentes orientadores nos programas de pós-graduação que, pautada em números e em regras que são aceitos como mais sagrados que o divino, mantêm, impedem ou dificultam a atuação de pesquisadores. É mais comum do que deveria ser, e por sorte não ocorre em todos os programas de pós-graduação, que pesquisadores tenham que esperar ciclos de 4 anos para tentar um credenciamento em um programa de seu interesse. A origem da regra, em geral, está em decisões de colegiados dos próprios programas que, com a validação da “coletividade”, sufocados pela burocracia, geram mais burocracias.
Precisamos não mais quantificar o que não é quantificável. Há uma necessidade, quase de sobrevivência da universidade, de reduzirmos essa máquina de recriação burocrática. Lógico que, para isso, as universidades deveriam deixar de ser alvo. Mas não só isso. A universidade precisa desinstitucionalizar a burocracia. Deveríamos, pois, termos uma espécie de “ministério da desburocratização” nas universidades?
Terminemos por aqui, pois é bem possível que alguém pense em criar regras para isso…
Desse modo, nesse conjunto de travamentos à inteligência, não é difícil entender a sentença inicial, afinal, uma vez que estamos reunidos, vamos nos reunir novamente, para nos reunir…
Referência
GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1997.